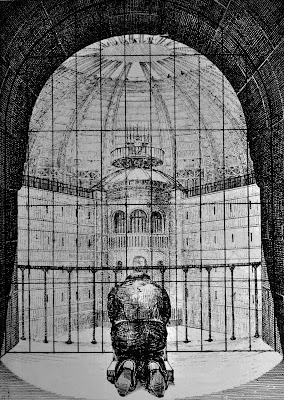Luís
Felipe Bellintani Ribeiro
(professor
de filosofia da UFF)
O título deste pequeno texto é meio estúpido, mas bem adequado à
estupidez dos tempos que correm.
Quem pensava que os princípios do pomposamente chamado “Estado
democrático de Direito”, vulgo “civilização”, eram favas contadas por estas
paragens ocidentais, não titubearia em responder a quem lhe apresentasse este
título na forma de pergunta: “nenhuma validade”, com todas as exclamações
possíveis no encalço, acompanhadas de vocativos irônicos como “ó cara pálida”,
de interjeições onomatopaicas como “ppffff” ou “dããã”, e de gestos
performáticos como o de enfiar uma casquinha de sorvete imaginária na própria testa.
Isso há uns quatro, cinco anos atrás.
Mas estamos no Brasil de 2017, este imenso Projac a céu aberto no coração
da América tropical.
Povoa-o bizarra tribo, que cultiva o estranho hábito de desjejuar,
almoçar, lanchar, jantar e cear com um aparelho de TV metido nas fuças. Seja na
própria casa, num boteco pé-sujo, num restaurante a quilo ou até num
restaurante mais chique, desses em que se vai com a namorada em aniversários de
namoro (até hoje não entendi o que faz o casal achar normal entrelaçar
romanticamente as mãos com o William Bonner chovendo perdigotos eletrônicos
sobre seus pratos desde um televisor fininho dependurado na parede).
O que era pra dar indigestão mais parece tempero sine qua non, tipo sal, óleo, alho ou cebola.
“Liga a Grobo aí, seu garçom, se não a gororoba não desce”, subentende-se
o subtítulo no subconsciente do brasileiro médio.
Pois é, a Globo.
Fatidicamente a Globo.
Inexoravelmente a Globo.
Quando não é Globo, é uma quase-Globo piorada, o que dá no mesmo.
Vale Bom dia Brasil, vale Encontro com Fátima Bernardes, vale Sessão da
Tarde, vale Globo Esporte, vale RJ TV, vale novelinha das 5, das 6, das 7, das
9, vale a minissérie que é a novelinha das 11, vale até o Vale a Pena Ver de
Novo.
O brasileiro traça qualquer coisa da Globo numa boa. Tudo para não
encarar o hipotético vácuo angustiante, solitário, silencioso, estático,
amorfo, incolor, da visão pavorosa de uma televisão desligada (ai, meu deus,
que medo dessa hipótese).
Hipotético porque, na real, ela sempre já está ligada.
É uma onipresença monopolística de fazer corar a emissora estatal da
Coreia do Norte (e os caras ainda arrotam capitalismo 24 horas ao dia pra cima
de moi, quer dizer, de nous tous...).
Não estranha que seja necessário trazer à liça a questão do título deste
texto. “É que”, como diz Arnaldo Antunes, “a televisão me deixou burro, muito
burro demais, agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais”, e o
basiquinho de outrora virou altas filosofias do futuro.
Que há retrocesso civilizatório qualquer um que vá urinar na hora da
propaganda entre um plim-plim e outro (desde que no banheiro não haja outro
televisor, bem entendido) percebe.
A questão é extensão do retrocesso.
Voltamos para aquém do momento histórico em que finalmente deixamos de
sentir a vergonha de ver a sexta ou sétima economia do planeta constar no mapa
da fome da ONU?
A acompanhar os próximos capítulos da novelinha “Brasil”.
As jornalistas da Globo, com aquele indefectível timbre de voz de
jornalista da Globo – tipo: “mamãe, olha como eu exalo credibilidade” –, hão de
nos sonegar mais essa informação, mas os capítulos da novelinha passarão na
blogosfera; nem tudo está perdido.
Voltamos para aquém da constituição de 1988?
Deixo a resposta ao leitor concidadão; ops, con..., con..., o que mesmo?
Voltamos para aquém da era Vargas?
(Ainda chamam de “modernização”...)
Não, nem vou perguntar se voltamos para aquém de 1789, porque,
convenhamos, acho que nunca fizemos cair nossa Bastilha, que por aqui se chama
“casa-grande-e-senzala”.
Da perspectiva de uma sociedade patrimonialista escravocrata, toda
tentativa de proclamar, enfim, a república burguesa é taxada a priori de
comunismo bolivariano. Coisas do relativismo. Vendo de lá onde está o PSTU, o
mesmo troço tem a fisionomia de reacionarismo de direita. Pobre de quem ficou
no meio do corredor polonês...
Mas, peraí! Quando a coisa chega à flexibilização da presunção de
inocência, à flexibilização do devido processo legal, à indistinção entre
acusado e condenado, ao uso de tortura, para obtenção de confissão (seja o
pau-de-arara stricto sensu, seja a ameaça de mofar na cadeia até onde der na
telha do juiz), aonde é que fomos parar?
Qualquer um, numa googlada (acabei de fazê-lo), descobre que o livro de
Beccaria, Dei delitti e delle pene, é
de 1764.
Trevas (para ficar na metáfora do Iluminismo).
E esse negócio de primeiro achar o criminoso para depois achar o crime? Tenho
a impressão de remeter à caça às bruxas da Idade Média. Tenho a impressão.
Enfim, meu leitor, não vou cansá-lo mais. O senhor que conhece um pouco
de Direito Romano (não conheço patavina), poderia certamente estender ainda
mais essa viagem no tempo em marcha ré.
Gostaria só de deixar-lhe, para sua reflexão própria, duas citaçõezinhas
tiradas da filosofia grega antiga, onde circulo um pouco mais à vontade. Coisa
bem velha, portanto. Uma é de Antifonte (480-411 a. C.). Outra, de Aristóteles (384-322
a. C.). Que, convenhamos, não são nenhuns bolivarianos. Elas tematizam um
expediente proto-jurídico comum na época de pré-Direito, que os gregos chamavam
de básanos, o “interrogatório sob
tortura”.
 |
Francisco de Goya y Lucientes, Quien lo puede pensar!
série Álbun C, 1810-1811
fonte: https://www.goyaenelprado.es/ |
Tive a ideia quando, ao ler com minha filha de dez anos (portanto dessa
geração que trocou a tela da Globo pela do iPhone, a qual talvez não seja menos
porcaria, mas, auspiciosamente, ao menos não é mais a da Globo) uma versão
infantil do Corcunda de Notre-Dame,
resolvi perguntar a ela por que, afinal, Esmeralda tinha assumido um crime, se
na verdade foi Frollo que o cometeu.
Ela, do alto de sua década vivida, sem titubear respondeu: “quando ela
viu os instrumentos de tortura, não quis nem saber, disse logo o que o guarda
queria ouvir”.
“Mas ela sabia que ia ser enforcada”, retruquei.
“Mesmo assim, papai; na hora é o que todo mundo faz; quem sabe depois ela
não conseguia fugir da prisão a tempo de não ser enforcada?”
“E se ao invés de ser enforcada ela, ao dizer o que o guarda queria
ouvir, ganhasse em troca a liberdade?”
“Tá brincando, papai?”
(...)
Às citações em traduções próprias, às quais, por precaução, faço
acompanhar os respectivos originais em grego (transliterado em caracteres
latinos), para simples conferência de fidedignidade.
Sei lá, não vá alguém querer me conduzir coercitivamente por tradução
comunista de texto clássico.
Grifos meus.
ANTIFONTE, Acerca do assassinato de Herodes (discurso de defesa de Helo, 49-50):
Skopeîte dè, ô
ándres, kaì ek toîn lógoin toîn androîn hekatéroin toîn basanisthéntoin tò
díkaion kaì tò eikós. Ho mèn gàr doûlos dýo lógo élege. totè mèn éphe me eirgásthai tò
érgon, totè dè ouk éphe; ho dè eléutheros oudépo <kaì>
nûn eíreke perì emoû phlaûron oudén, tê(i) autê(i) basáno(i)
basanizómenos. Toûto mèn gàr ouk ên autô(i)
eleutherían proteínantas hósper tòn héteron peîsai; toûto dè metà
toû alethoûs eboúleto kindyneúon páskhein hó ti déoi, epeì tó ge symphéron kaì hoûtos epístato, hóti tóte paúsoito
strebloúmenos, hopóte eípoi tà toútois dokoûnta. Potéro(i) oûn eikós
esti pisteûsai, tô(i) dià télous tòn autòn aeì lógon légonti, è tô(i)
totè mèn pháskonti totè d’oú? allà kaì
áneu basánou toiaútes hoi toùs autoùs aieì perì tôn autôn
lógous légontes pistóteroí eisi tôn diapheroménon sphísin autoîs.
Examinai, ó bravos
juízes, a partir de cada um dos discursos dos dois homens interrogados, o justo
e o verossímil. Um, o escravo, falou em dois sentidos: ora disse que eu cometi o crime, ora disse que não. O outro, o
homem livre, até agora não disse nada de mau a meu respeito, e ele foi
interrogado sob a mesma tortura. Pois a
esse último não era possível convencer pela promessa de liberdade como ao outro.
Ele voluntariamente correu o risco de sofrer o que fosse preciso para estar do
lado da verdade, mesmo sabendo que
cessariam de torturá-lo na roda, se falasse o que lhes parecia conveniente.
Em qual dos dois é razoável confiar? No que até o fim disse sempre as mesmas
coisas ou no que ora disse isso, ora aquilo? Em todo caso, mesmo sem a tal tortura, aqueles que mantêm sempre os mesmos discursos
sobre as mesmas coisas são mais confiáveis que os que estão em desacordo
consigo mesmos.
ARISTÓTELES, Retórica I, 15d, (1376b31-1377a10):
hai dè básanoi martyríai
tinés eisin, ékhein dè dokoûsi tò pistón, hóti anágke tis prósestin.
oúkoun khalepòn oudè perì toúton eipeîn tà endekhómena, ex hôn
eán te hypárkhosin oikeîai aúxein éstin, hóti aletheîs mónai tôn
martyriôn eisin haûtai, eán te hypenantíai ôsi kaì metà toû
amphisbetoûntos, dialýoi án tis
talethê légon kath’hólou toû génous tôn basánon:
oudèn gàr hêtton anagkazómenoi tà pseudê légousin è talethê,
kaì diakarteroûntes mè légein talethê, kaì rha(i)díos
katapseudómenoi hos pausómenoi thâtton. deî dè ékhein epanaphérein epì
toiaûta gegeneména paradeígmata hà íasin hoi krínontes. [deî dè légein
hos ouk eisìn aletheîs hai
básanoi: polloì mèn gàr pakhýphrones hoi kaì lithódermoi kaì taîs psykhaîs
óntes dynatoì gennaíos egkarteroûsi taîs anágkais, hoi dè deiloì kaì
eulabeîs prò toû tàs anágkas ideîn autôn katatharroûsin, hóste oudèn ésti pistòn en basánois.]
As confissões sob tortura
são testemunhos peculiares, que parecem conter credibilidade porque certo
constrangimento é acrescentado. Não é difícil entender quais destas confissões cada
uma das partes dirá serem as aceitáveis. Se elas forem favoráveis a uma das
partes, é possível ampliá-las, dizendo que elas são os únicos testemunhos
verdadeiros, se forem contrárias e a favor da parte adversária, poder-se-ia desconstruí-las dizendo a
verdade sobre o gênero inteiro desse tipo de confissão: as pessoas submetidas a
constrangimento não dizem menos coisas falsas que verdadeiras; os mais
resistentes nem por isso hão de dizer a verdade, enquanto outros facilmente
mentem para cessar mais rápido com a tortura. É preciso que os juízes remontem
estas declarações a fatos exemplares que sejam de seu conhecimento. [É preciso
dizer que não são verdadeiras as
confissões sob tortura: muitos, com efeito, são durões e cascudos, e têm
almas capazes de resistir nobremente aos constrangimentos, outros são covardes
e tímidos, e só de ver a iminência do constrangimento se exasperam, de modo que
não há nada de confiável nas confissões
sob tortura.
PS: O colega Flávio Zimmermann me envia preciosa contribuição, um trecho dos Ensaios de Montaigne (II, 5), que vai no mesmo sentido do de Aristóteles:
“A tortura é uma invenção perigosa que parece antes pôr à prova a resistência à dor do que a insinceridade. Quem a não pode suportar esconde a verdade tanto quanto quem a suporta; pois por que a dor o levaria a confessar o que é mais do que o que não é? E, inversamente, se quem não cometeu o que lhe recriminam é bastante resistente para suportar a tortura, por que não o há de ser o culpado que em tal circunstância joga a vida? [...] “A dor obriga o próprio inocente a mentir.” [Públio Siro] Daí ocorre que aquele a quem o juiz inflige a tortura para não se expor a condenar um inocente, na realidade morre inocente e torturado. Muitos acusados sob os efeitos da tortura confessam o que não fizeram. [...] Muitos povos, menos bárbaros a esse respeito do que os gregos e os romanos que assim os chamavam, achavam horrível e cruel torturar alguém cuja culpabilidade não estivesse estabelecida. Que culpa terá ele de nossa ignorância? Não somos injustos em obrigá-lo a suportar coisa pior do que a morte, a fim de não matá-lo sem razão? E não se negará que assim seja, pois vemos muitos inocentes preferirem a morte a submeter-se a tal meio de informação mais penoso do que a execução e que pela sua violência não raro acarreta de antemão a morte.”